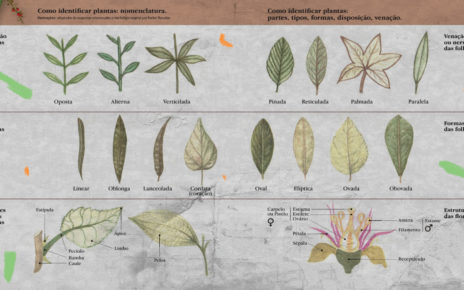Por Luis Gabriel Nunes
A agricultura é praticada pelos humanos há pouco mais de 10 mil anos. Durante todo esse tempo nos relacionamos diretamente com milhares de espécies de plantas, animais, fungos e muitos grupos de micro-organismos, muitas vezes sem saber disso. Essas relações se desenvolveram em todas as sociedades humanas e vão desde o tratamento divino para muitos seres, como o culto aos escaravelhos no Egito antigo ou o tratamento dado às vacas pelos hindus; passando pelo completo desprezo por suas vidas através da caça de espécies que ainda resistem, como as baleias, os elefantes, as onças pintadas, antílopes e tantas outras, com caça proibida ou “legalizada”. Essas relações predatórias levaram à extinção de diversas espécies e exterminou todas as populações existentes de grandes aves como o Dodô das ilhas Mauricio, o Cachorro da Tasmânia, ou dos Quagas pelos europeus colonizadores no continente africano.

Muitas espécies mantiveram relações duradouras com os humanos, como os cães e gatos domésticos, aves como patos, marrecos e galinhas, as vacas (essas vão do céu ao inferno), os cavalos e tantas outras que atualmente são tratadas como meras ferramentas de trabalho ou consumo, por grande parte da humanidade. No entanto, apesar das relações, sejam harmônicas ou conflituosas, entre Homo sapiens e natureza, a ecologia nos mostra que eles não estão separados, apesar de as últimas décadas terem nos afastado imensamente.
Há 58 anos a bióloga Rachel Carson – uma espécie de Greta Thunberg dos anos 60 – publicava o livro Primavera Silenciosa. Na obra, ela descrevia e denunciava ao mundo o verdadeiro massacre gerado pela nossa relação generalista e de dominação dos ecossistemas. Ela relatava a grande mortandade de espécies de aves, peixes e insetos, o que afetava ecossistemas e teias inteiras de relações entre organismos, chegando, inclusive, às pessoas que viviam nessas regiões e consumiam seres das mesmas. Tudo isso para controlar uma única espécie de planta ou inseto, que era considerada como “praga” ou “daninha”, e que sempre acabavam voltando ainda mais forte. É uma leitura muito recomendável e indispensável para qualquer ambientalista. No entanto, ela não traz ênfase na origem de muitos dos produtos utilizados nessas aplicações.
Criados como armas químicas, para serem usados na 2ª guerra mundial e em batalhas imperialistas regionais, como a guerra do Vietnã, esses agrotóxicos foram usados inicialmente para matar humanos ou impedi-los de viver (há diferenças) pela destruição de seus territórios. Com o fim desses conflitos, algum destino lucrativo precisava ser dado para essas substâncias; nasce então o processo que ficou conhecido como “Revolução Verde”.

Todo o processo foi acompanhado por diversas ações de marketing internacional, pressão comercial, acordos consentidos e forçados entre países, incentivos fiscais e legais e muito lobby. No Brasil, desde a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural em 1965, vinculando a obtenção de crédito agrícola à obrigatoriedade da compra de insumos químicos pelos camponeses, esse processo se intensificou.
No início desse século, contrariando uma tendência na mudança de hábitos globais, ampliamos ainda mais nosso consumo de agrotóxicos. Entre os anos de 2001 e 2008 as vendas desses produtos saltaram de US$ 2 bilhões para mais US$ 7 bilhões, transformando o Brasil no maior consumidor mundial, com a aplicação de 986,5 mil toneladas em 2008 e passando de 1 milhão de toneladas em 2009. O aumento foi tão expressivo que o SINDAG (Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola), em 2010, parou de divulgar o volume de agrotóxicos comercializado no país, quando já havíamos batido a marca de 5 kg por habitante, e passou a publicar apenas o faturamento do setor.
Na última década, os dados passaram de alarmantes para desesperadores. O congresso e o governo federal, dominados pelo lobby rural e também por representantes diretos dos maiores latifundiários do país, passaram a ignorar, contornar ou mesmo rechaçar estudos científicos e recomendações técnicas. Liberou-se no país a venda e o consumo de centenas de produtos químicos para uso agrícola – muitos proibidos em diversos países -, sob a alegação de que nós temos um clima tropical, com mais insetos e precisamos de um repertório maior de produtos, ignorando que quanto maior diversidade maior é o estrago.
Entre 2010 e 2015, o país liberou em média 135 novos registros de químicos agrícolas. A partir de 2016, o cenário piorou muito, nesse ano foram 277 novos registros, seguidos de 405 em 2017, 449 em 2018 e 474 em 2019, e pouquíssimas proibições ou recomendações para restrição de uso. Só em 2020, mesmo com a situação de pandemia do novo coronavírus – que tem sua origem no desequilíbrio ambiental gerado pela humanidade nos ecossistemas – foram aprovados 150 novos registros até maio.
Todo esse contexto histórico levou muitas comunidades do interior do nosso país a abandonar práticas saudáveis de produção, manejo e integração agrícola com a terra e seu entorno. O uso de produtos químicos era raro; todo camponês manuseava seu espaço produtivo com enxadas, foices e arados, gerando maior precisão e seleção do que poderia ficar e o que deveria sair, e o destino do que saía era o próprio solo, gerando uma relação de retroalimentação muito saudável. Hoje, muitos produtores recorrem diretamente à bomba costal para fazer aceiros, retirar o mato de pequenos espaços e até de jardins domésticos, rurais ou urbanos. A relação foi se normalizando tanto que, “flexibilizar” regras de uso, além de ampliar e estimular seu consumo, parece não ser problema nenhum para a grande maioria das pessoas.
Acontece que o solo é tão mineral quanto a vida. A grande maioria dos micro-organismos que vivem nele trazem benefícios e a sua interação, com as diversas raízes, gera um importante equilíbrio, imperceptível em curto prazo. A maior diversidade de organismos do solo e raízes de plantas tornam o solo mais estável e saudável e, consequentemente, uma agricultura perene e um alimento mais nutritivo e saudável para o consumo.
As moléculas utilizadas para eliminar alguma erva ou algum inseto nunca afetam apenas o organismo alvo, chegando em diferentes níveis tróficos, com danos para toda a comunidade. Elas ficam no solo em sua forma inicial ou residual e/ou interagem com outras moléculas já existentes ali naturalmente. Essas reações dão origem a outras moléculas, que ficam aptas a interagir com outras, gerando um ciclo de desequilíbrio que não percebemos no começo, mas com o tempo pode levar a incapacidade nutricional do solo e até sua desertificação. Nenhuma empresa que produz esses produtos chega a esse nível de testagem. No máximo são realizados testes generalistas para os ecossistemas e os mais específicos apenas sob os efeitos em humanos. E apesar de testes mais amplos para efeitos em humanos, resíduos nocivos nunca são totalmente eliminados e chegam até as regiões urbanas através da cursos d’água.

Com a concentração e industrialização da terra e do campo, a coisa ficou extremamente grave. Grandes espaços de produção exigem o uso indiscriminado desses produtos. Podemos citar como exemplo a cana-de-açúcar no interior paulista ou a soja no centro-oeste e no MATOPIBA (Maranhão Tocantins, Piauí e Bahia). As aplicações passam a ser feitas com grandes máquinas e até com aviões; os efeitos invisíveis continuam não sendo percebidos, mas agora surgem efeitos bem visíveis, mas descontextualizados e/ou relativizados pelos fabricantes, vendedores e até por usuários. É o caso, por exemplo, da morte de árvores no entorno de grandes plantações, diminuição de abelhas e morte de plantas em hortas familiares em pequenas propriedades, vizinhas de grandes áreas de monocultivo. E, é claro, a intoxicação direta de pessoas.
Apesar de perceptíveis, esses efeitos são naturalizados e já se tornaram recorrentes. Entre 2017 e 2018, dezenas de pessoas foram intoxicadas nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Pará e Bahia, segundo relatório da Human Rights Watch. Entre 2014 e 2017, o monitoramento obrigatório da água urbana encontrou em São Paulo, Rio de Janeiro e outras 1.300 cidades agrotóxicos na rede de abastecimento, de acordo com dados do Ministério da Saúde. São 25% dos municípios do país e não podemos dizer que são exceções. E a lista de moléculas testadas, utilizadas nessa análise e que foram efetivamente monitoradas, tem só 27 delas, dentre tantas que são permitidas no Brasil e onde só esse ano foram liberadas mais 150.
Os pequenos proprietários de terra, sitiantes, chacareiros, retireiros, horticultores, apicultores, pequenos fruticultores e tantos tipos de camponeses, têm muita facilidade de se identificarem enquanto classe e categorias de trabalhador, com o agro do latifúndio e o agrorrentismo. Ao mesmo tempo, essa parcela do nosso campo têm fortes raízes regionais, identificando-se historicamente com rios de suas terras, vivendo histórias, pescando e banhando-se neles; com animais de seu convívio, pássaros e mamíferos tradicionais presentes em tantas lendas regionais históricas e na interação cotidiana; com plantas da região, através de chás, alimentos, rituais de benzeção e purificação (em toda feira do interior paulista se pode encontra um vasinho de sete ervas); e tantas outras formas de relação possíveis.
Nenhum camponês apoiaria uma política que, em longo prazo, os privasse dessa vida e desse convívio saudável com a natureza e a sua terra, pelo menos não se estiver consciente de todo contexto. Nenhum deles apoiaria uma bancada que aprovasse políticas que favorecem os capitais abertos, em detrimento da economia local.
Nós temos hoje no país, mais de 4 milhões de propriedade rurais (isso é cerca de 81,3% dos estabelecimentos rurais de todo território nacional) com até 50 hectares, abrangendo cerca 12,8% da área produtiva no Brasil. Enquanto que cerca de 2.400 latifúndios, todos com mais de 10 mil hectares (cerca de 0,04% das propriedades rurais do país) produzem em uma área que abrange cerca de 14,8% de toda a área produtiva do campo brasileiro (dados do censo rural 2017). Ou seja, menos de 0,5% dos produtores rurais do Brasil utilizam mais área de terra do que mais de 80% do restante dos produtores, produzindo basicamente commodities agrícolas em grande escala e para exportação. Essas terras estão sob propriedade, ou gestão, de grandes grupos transnacionais, dos diversos setores agrícolas, muitos com sede no exterior e outras tantas são de propriedade de uma ou algumas famílias, que muitas vezes residem em outras regiões, distantes dessas terras.
Essa diferença na divisão do trabalho e do trabalhador rural em nosso país gera uma luta de classe alheia à dos trabalhadores urbanos. E é de todas as formas suprimida ou apagada do debate, justamente para forçar a identificação das mais de 4 milhões de famílias (isso ainda não leva em conta uma imensidão de médios produtores) de camponeses, com as lideranças políticas e oligárquicas do latifúndio, gerando uma falsa representatividade, que hoje é conhecida como bancada ruralista. E essa retórica não é despropositada, essa não se propõem ser a bancada do latifúndio, ou das commodities, ou do agrorrentismo, ela é “rural”.
O exemplo recentemente noticiado com apicultores no sul do Pará (reportagem exibida no Globo Rural de 28/06/2020), serve muito bem para ilustrar essa situação. Além de mostrar a diferença entre as prioridades dadas às economias locais e à economia global, também apresenta o exemplo do manejo das abelhas, animais extremamente importantes para o equilíbrio da natureza. Os apicultores que contavam com um ambiente saudável e economicamente estável, capaz de sustentar 40 famílias e, em parte, a cadeia que se relacionava com ela, tiveram esse equilíbrio destruído pelo avanço da soja do centro-oeste em direção ao norte do país. Isso foi feito através de políticas nacionais fundiárias, de incentivos fiscais e legais, que priorizaram atender à economia global, tendo como métrica absoluta a balança comercial. Hoje a região atende à demanda financeira de uma única família, que é dona da fazenda de soja limítrofe as terras dos apicultores, além de gerar um grave desequilíbrio ecossistêmico.
Os apicultores do sul do Pará trabalham com as abelhas sem ferrão, um grupo com mais de 300 espécies, intrinsecamente ligadas a polinização de plantas nativas dos ecossistemas onde elas habitam, agrícolas ou não. O Brasil é um dos países com a maior diversidade dessas abelhas, e algumas espécies são endêmicas, ou seja, só existem em uma determinada região ou ecossistema. Toda comunidade científica internacional tem consenso sobre a importância das abelhas para todo o planeta e, consequentemente, para toda humanidade. E como já foi mencionado, não existem estudos específicos e rigorosos para grande parte da fauna, principalmente a brasileira, localizada em regiões longe de onde a maioria dos químicos agrícolas são produzidos. Mesmo assim, a ideia de que as abelhas e o mel são “pop”, são “tec” e são “agro” continua sendo veiculada em campanhas publicitárias que pretendem representar todo o setor agrícola.
Hoje a bancada ruralista é um dos grupos mais poderosos (senão o mais) do Congresso Nacional, propondo enormes retrocessos sociais, em diversos setores, não apenas na área ambiental ou de segurança alimentar, mas também sanitários e até de segurança pública, com a onda armamentista no campo. Mesmo assim ela se sustenta e se amplia, através da manipulação do imaginário de nosso povo, que mesmo depois de todo êxodo, ainda é amplamente rural. Trata-se de um grupo político que faz uso de campanhas milionárias de marketing, misturas estratégicas de dados do recenseamento da população e produção do campo, além de chantagens políticas e econômicas, que vão desde o uso da balança comercial simplista e enviesada, até os acordos nos gabinetes de Brasília.
Ao mesmo tempo que esses setores da política crescem às custas dos camponeses, outros grupos como o PSOL, recorreram contra uma ação do governo federal que, através do ministério da agricultura, pedia a liberação automática de novos agrotóxicos caso o governo demorasse mais de 60 dias para concluir os estudos sobre o produto – estudos que já haviam sido reduzidos ou limitados cada vez mais nos últimos anos. Um partido que sempre se coloca ativamente na defesa dos povos e do meio ambiente, com grande destaque para o sofrido ano de 2019. Além disso, é o único partido com um grupo de Ecossocialistas, que debate cotidianamente a gestão do planeta e seus recursos limitados para toda a humanidade, de forma racional e duradoura, propondo ações ao partido a partir de suas bases, sob diversos aspectos. Um grupo que defende autonomia para todos os territórios do país (priorizando a economia local), sejam indígenas, quilombolas, periféricos ou camponeses. Esse grupo não possui nenhum, ou quase nenhum, reconhecimento dentro da classe de trabalhadores camponesa brasileira. Temos uma excelente bancada, diversa, paritária de gênero e representativa, mas sabemos que nenhum dos deputados tem base de maioria camponesa.
Um partido que se propõe revolucionar o sistema, precisa ocupar o imaginário dessas pessoas, contar essa história para quem precisa ouvir e mostrar quem, de fato, representa seus interesses. Não é tarefa a ser alcançada em curto prazo, e muito menos fácil, sabemos, mas precisa ser feita. Em termos práticos, é dar e incentivar as condições para ampliar suas bases políticas nos interiores dessa imenso e lindo país, o Brasil. Lutar por um partido que não se faça só para o povo, mas também do povo, e todo ele, em sua imensa e rica diversidade e territorialidade. Construindo o Ecossocialismo para mudarmos o curso da história e barrar a nossa extinção!
Luis Gabriel Nunes é biólogo, ecossocialista e doutor em Ecologia e Conservação da Biodiversidade. Constrói APS/PSOL e a Setorial Ecossocialista a partir de Ribeirão Preto – SP.
* Este texto apresenta o posicionamento e ponto de vista de seu autor e não reflete, necessariamente, a opinião do Portal Baixada de Fato