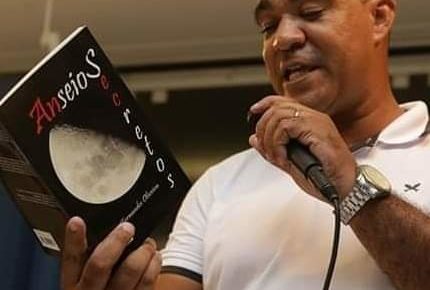Evento realizado em Iacanga nos anos 1970 e 1980 levou João Gilberto, Raul Seixas e Luiz Gonzaga para o palco, em clima hippie
Impressionante que muita gente NÃO lembre disso, mas o Brasil já teve seu Woodstock. O Festival de Águas Claras aconteceu em quatro edições (a primeira em 1975 e as outras três nos anos 1980) numa fazenda em Iacanga, interior de São Paulo. Foi feito na raça por um sujeito chamado Antonio Cecchin Jr., o Leivinha, ao lado de parentes e amigos – e com o apoio do pai, dono dos lotes de terra.
O evento abriu com uma escalação eminentemente roqueira (incluindo várias bandas bastante amadoras, ao lado de grupos como Mutantes e Som Nosso de Cada Dia) e, nos anos 1980, foi redesenhado como festival de MPB, com um ou outro nome do rock – Raul Seixas e Erasmo Carlos passaram por lá. Ganhou transmissão pela Band, alguns patrocínios mais ou menos poderosos e teve seu momento de glória em 1983. Nesse ano, Leivinha conseguiu a proeza de agendar no evento uma apresentação de João Gilberto, após vários momentos de hesitação do baiano. Seria o único show do músico em festivais no Brasil. O fim da história de Águas Claras não foi dos melhores: o festival encerrou de forma dramática em 1984, com uma edição inchada, agendada às pressas no Carnaval e arrasada por chuvas torrenciais.
Essa história foi contada pelo cineasta Thiago Mattar no filme O barato de Iacanga, que está na programação do festival É Tudo Verdade, no Rio e em São Paulo, neste fim de semana. Conversamos com Thiago sobre as histórias do festival, do filme, do sufoco que foi liberar as imagens de João Gilberto (Thiago montou guarda na porta do prédio do baiano, no Leblon) e sobre o, digamos, “apagamento” coletivo que a história de Águas Claras sofreu quando uma porrada de gente passou a desejar que a vida começasse agora e o mundo fosse nosso de vez. Pega aí.

POP FANTASMA: Como você resolveu fazer o filme e contactar o Leivinha?
THIAGO MATTAR: Meu pai e o Leivinha têm um parentesco distante. Meu pai é nascido e criado em Iacanga. Eu conhecia a cidade porque minha bisavó paterna morava lá, eu ia lá para visitá-la. Era a unica referência que eu tinha. Um dia eu estava assistindo ao filme do festival de Woodstock com meu pai – a gente morava em outra cidade do interior de São Paulo – e meu pai disse: “Eu fui no Woodstock brasileiro, ele foi feito na cidade da sua bisavó”. Eu falei: “Haha, cê tá brincando, é piada, né?”. Isso foi há dez anos. Bom, eu descobri a história e achei inacreditável! Existiam poucas fontes de pesquisa na época, com exceção de um blog de uma senhora chamada Sétima Lua, um nome bem hippie, bem maluco…

Sim, eu me lembro desse blog. Aí, cara, eu comecei a ver as fotos do álbuns de algumas pessoas, de gente que tinha fotografado de longe o João Gilberto, o Raul Seixas. Eu fiquei…: “Nossa, mas isso realmente aconteceu!”. Comecei uma pesquisa, achei coisas impressas sobre o festival, reportagens da época. Não tinha livro sobre o festival, nada disso. Só bem depois fui fuçar arquivos de televisão. Mas aí meu pai falou: “Olha, eu posso chamar o Leivinha pra você conhecer”. O Leivinha morava em Mato Grosso, e um dia ele fala que precisava ir para São Paulo, e passa na cidade em que a gente morava. E ele me conta a história que está no filme. A primeira história que ele me contou é a que eu consegui contar dez anos depois. Tem um cineasta escocês, o Kevin MacDonald, que diz que a pessoa só conta bem uma história uma vez. E se tinha alguém que tinha contado essa história de um jeito incrível, era o protagonista. Leivinha me falou, isso há dez anos: “Thiago, você tem 20 anos. Eu tinha 22 quando quis fazer o festival e ninguém acreditava em mim”. Ele viu essa paixão em mim e me entregou parte do arquivo dele de bastidores.
Dez anos, na real, é um tempo até compreensível para a realização de um filme desses… E pra você ter uma ideia, eu tenho imagens que eu mesmo gravei há dez anos. Tem coisa que você olha lá e pensa: “Mas de que televisão ele pegou isso?”. Eu gravei há dez anos sem ter ideia do que eu estava fazendo. Peguei uma câmera Mini-DV e saí pegando depoimentos de gente da organização do festival, da família do Leivinha, da Amarilis, amiga dele que ajudou a organizar as primeiras edições. Comecei com amigos me ajudando.
As imagens dos shows são fantásticas, como a do show do Luiz Gonzaga em que ele fala pro público: “Então essa é a sociedade alternativa? Raul Seixas tinha razão!” Meus amigos falavam: “Como a gente não sabe disso? A nossa geração só conhece o Rock In Rio!”. As pessoas foram se apaixonando pela história. Eu achava que o filme ia ser meu trabalho de conclusão de curso em jornalismo. Quando saí da faculdade eu tinha um filme na gaveta, ainda faltava pesquisa de imagens. Aí encontrei um anjo que foi o Marcelo Machado, que dirigiu Tropicália, e eu sabia que ele tinha ido ao festival. Ele me recebeu na produtora dele e falou: “Thiago, você tem que contar essa história”. E me apresentou ao pessoal da Big Bonsai (produtora do filme). E o Leivinha sempre do lado. Pô, a gente gravou o Conversa com Bial! Imagina, a gente na casa do Rock In Rio fincando a bandeira do Woodstock brasileiro para ninguém ter dúvida (a entrevista vai ao ar em junho)…
O Pena Schmidt tem uma frase que eu acho bem legal. Ele disse numa entrevista que com a chegada dos anos 1980, começou a rolar um “apaga tudo” para o que veio antes, mesmo que fossem coisas do rock dos anos 1970: Rita Lee, Raul Seixas, O Terço… Você acredita que esse apagamento do festival tenha rolado a partir de uma espécie de assepsia na história, em que essa coisa hippie passou a não interessar mais? Acredito. Foram várias razões. A atitude hippie chega no Brasil com um atraso muito grande. O filme Woodstock chega no Brasil em 1970 censurado, com o pessoal pelado cortado. A galera que ia para Londres trazia discos, o rock se popularizou aqui mas começou a se espalhar numa subcultura de São Paulo, Rio. Essa cena roqueira anterior não tinha lugar para tocar. A nova geração do rock brasileiro, de Legião Urbana, Barão Vermelho, já ganha lugar para tocar, já tem uma disseminação nas rádios. O evento começou como festival de rock, mas nos anos 1980 havia isso de “vamos transformar o festival para que não seja essa coisa tão hippie”. Isso em 1981. Águas Claras é o último suspiro dessa atitude hippie no Brasil. E como termina em 1984, havia uma necessidade de esquecer tudo que vinha antes, de um novo Brasil, de uma nova maneira de fazer festivais. Rolou uma atitude coletiva de esquecimento, mesmo. É o que cria distorções como a da galera que acha que não houve ditadura (risos), que nega por mais que você mostre documentos. Com o tempo a gente esquece coisas e memória no Brasil não é nosso forte. Já viu a série Wild wild country?
Não, tá na fila das minhas séries… Os documentaristas, quando fizeram a série, tiveram acesso aos arquivos das TVs locais. E elas guardavam os arquivos em vez de gravar por cima da fita. Encontrei muita dificuldade no Brasil com essa coisa da preservação de material. Meu filme é uma atitude nesse sentido de: “Olha a importância que essa história tem, e a qualidade do material que nós encontramos!”. Pra quem trabalha com isso no Brasil, é um filme dramático! Tivemos que juntar o que era só imagem com coisa que era só áudio, coisa que nem achamos e tá na boca das pessoas…

Em O barato de Iacanga tem cenas fantásticas de bastidores, com Moraes Moreira, A Cor do Som… Você vê que tinha um mercado pop no Brasil – porque aquela MPB era muito pop – mas isso não era bem trabalhado… A Diana Pequeno também estava lá, ela ficou no ostracismo como muita gente daquela geração. Tinha muita coisa acontecendo. Uma coisa que a gente não pode dizer é que era um evento de gravadora. A curadoria era da galera, eles estavam levando quem eles achavam interessante, mesmo depois da reformulação em que o festival virou de MPB. Com o Rock In Rio, já tinha uma marca…
Já tinha a Clair Brothers (que cuidava do som do evento). Sim, uns gringos… Mas isso a gente até falou no Bial: o Rock In Rio aprendeu a fazer festival com Iacanga, o que fazer e o que não fazer. Foi algo de… “vamos fazer um banheiro direitinho?”, “vamos melhorar o transporte e dar estrutura pra isso e aquilo?”, “vamos trazer técnico de fora, porque não tem mesa de som legal aqui?”. E o Rock In Rio já era uma coisa absorvida pela cultura, eles não tinham grandes dificuldades em termos políticos para fazer festival. No caso de Águas Claras, tem dossiê até o último festival! Se você procurar os acervos do Arquivo Nacional, vai ver documento do Dops até 1984! Tinha gente lá dentro fazendo relatório pro Ministério da Justiça, dizendo: “Como isso tá acontecendo? Os artistas aproveitam para contestar o regime vigente no palco!” (risos). Tinha todo esse drama com Águas Claras, de ter uma atitude política mesmo sem querer ter.

Fiquei com a impressão de que as raves são as grandes herdeiras de Águas Claras, aliás. E não o Rock In Rio. Sim, os herdeiros são esses festivais mais isolados que vêm com a proposta de vender a experiência. Em que você vai lá para acampar, viver o festival, e não para ver o show e ir embora, como acontece com Rock In Rio, Lollapalooza, essa coisa de conglomerados, que é caça-níquel. E Águas Claras nunca foi caça-níquel, até porque quando começou a tentar ser, morreu! A proposta meio que se corrompe ali (em 1984), porque empresários começam a tomar conta do evento. Eu acho que a natureza se vinga do homem ali, a chuva veio para destruir aquela ambição de transformar aquilo num evento comercial pra caralho. É como eu vejo as coisas e como retratei no filme.

E que história foi essa de você ter praticamente acampado na porta do prédio do João Gilberto para tentar conseguir a autorização dele para as imagens dele no filme? Como foi isso e como você finalmente conseguiu? Bom, teve uma época em que eu fiquei totalmente perdido. Pensei: “Esse filme não vai sair sem o João Gilberto, que é o maior momento para a produção do festival”. O maior presente para o público foi o show do João. Numa época, eu fui pro Rio com uma mão na frente e outra atrás, descobri onde o João morava e fiquei igual a um maluco lá, de plantão. Eu ia todo dia lá, teve dois dias em que fui de madrugada porque soube de uma história de que ele saía de madrugada para comprar jornal e conversar com o cara da banca (risos). Passaram dois anos, aí a Bebel Gilberto (filha) consegue a curatela dele. E por meio de amigos e advogados, a gente conseguiu conversar com a Bebel e apresentar o projeto. A reação dela foi: “Que coisa linda, onde é isso?”.
Ela não conhecia? Pelo que eu sei, não. Não sei tudo a respeito, mas ela ficou impressionada com as imagens, pelo que ela respondeu no e-mail. E acabamos conseguindo a liberação. Isso deixou a Big Bonsai tranquila, porque imagina negociar a liberação de não sei quantas músicas, autores, todo mundo que tá no palco… E até algumas pessoas que aparecem peladas no público a gente conseguiu achar! (risos) Imagina você ver um cara de pinto de fora e pensar: “Como eu vou achar esse cara?”
Por curiosidade: alguma vez o Leivinha já te falou o que ele acha do Rock In Rio? Ou o que ele sentiu quando soube do festival? Ele desistiu dessa coisa dos festivais, ele até fala disso no filme. Ele viu que a atitude do público tinha mudado, que o público era outro, que aquilo tava fugindo do controle dele. Antes era uma coisa só feita pela família, por amigos que conseguiam patrocínio meio de última hora, já tinha uma estrutura por trás querendo comer o festival. Em publicações da época, ele diz que queria fazer uma edição só com nomes internacionais. Só que ele queria trazer a galera do progressivo: Jethro Tull, que era o que ele gostava. Ele nunca diz que o Rock In Rio roubou a ideia dele, até porque a proposta do Rock In Rio era transformar o Brasil num palco de shows internacionais. Tem bochichos de que o Manoel Poladian e o Roberto Medina estavam de alguma forma perto na última edição, que teriam visto o que aconteceu, aprenderam um pouco com aquilo. E muita gente ficou impressionada: “Como essa galera tá conseguindo fazer isso sem a gente?” (risos).
Foto principal: Calil Neto (público em 1983)