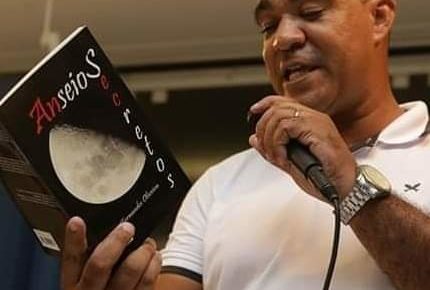Por Bruno Vilas Boas Bispo para o site Passa Palavra.
Por que o documentário seria tão representativo para nosso momento já que possui uma estética relativamente conservadora e com uma narrativa que privilegia a perspectiva institucional do PT no “processo”?
O filme O Processo, de Maria Augusta Ramos, lançado nessa última semana, é uma obra de arte completamente representativa da nossa esquerda institucional e, mais do que isso, da atual situação das nossas organizações populares (movimentos sociais, sindicatos etc.). A primeira por se alhear da segunda, e a segunda por não constituir para si um protagonismo na vida política, sem produzir representações populares no filme considerado mais representativo a tratar disso. Óbvio, esse é um texto de opinião, não se pretende neutro.
Já é lugar comum entre a esquerda citar Maiakóvski em relação ao fato de que não há arte revolucionária sem forma revolucionária. É importante também lembrarmos que forma, nesse sentido, é uma espécie particular de conteúdo. Não há um jeito de afirmar isso sem que, afastando a afirmação de um contexto, pareçamos deterministas; mas uma observação histórica das linguagens artísticas e não artísticas nos fará perceber que: o jeito com que se expressa algo carrega mais elementos de comunicação do que o simples depósito significante das palavras ou dos referentes imagéticos, e justamente nessa transição entre coisa e representação há a magia e a desgraça da comunicação artística ou não artística. Quem, tendo uma discussão de relação, já não falou ou ouviu: “não é O QUE você fala, mas COMO você fala”? Há quem diga que a cabeça do cavalo ao centro do quadro Guernica, de Picasso, é uma síntese do sofrimento que todo o quadro representa (aliás, por que Picasso colocou o diacho do cavalo no centro da imensa tela, em óbvio foco dramático da cena, sob dois pontos de iluminação e com alguns olhares voltados para ele? Será que há aí a representação da desumanização em torno do sofrimento? Enfim… me chamem para uma cerveja).
Poderíamos, mas não é o caso, apontar como Hegel aborda esse tema, Depois Marx, e Adorno, e Lucáks, e… e… e… Ou ainda, falarmos da limitação estética em Lênin que não era a mesma de Trotsky, mas aqui não é tanto para termos um aprofundamento teórico sobre a possibilidade de um pensamento estético materialista ou tecer fofocas valorativas acerca dos fatos históricos de outros tempos e lugares, ou qualquer coisa que o valha.

Não sendo aquilo o objeto desse texto, o que seria? O processo.
Bem, a começar pelo título do filme, trata-se ao mesmo tempo de uma citação à obra de Kafka e do “processo” de impeachmentsofrido pelo governo petista (entenda-se… golpe parlamentar). E somente isso, o título, já dá pano para manga. Qual seja, em uma obra magistral, Kafka lança seu personagem num processo que envolve toda a sua vida através de uma burocracia ao mesmo tempo forte e cega à humanização, que drena toda a vitalidade do personagem em ambientes institucionalizados e não institucionalizados, e que o marca com uma espécie de praga na testa a alcunha de criminoso, sem fato jurídico, sem defesa, sem provas. Uma culpa desforme e um alheamento se apossam do personagem em meios que lhes estão completamente fora de seu controle: a alienação completa de seu destino e a angústia são os elementos que permeiam o romance[1]. Esse não é exatamente o caso da presidenta Dilma e do PT, que demonstra completa ciência dos trâmites burocráticos do Estado de Direito, suas origens elitistas e oligárquicas e sua forma bem peculiar de modernização alheias aos princípios liberais, expostos na representação do julgamento político que se interpôs. Nesse sentido, enquanto Joseph K. era uma vítima completamente ignorante em relação ao que se passou com ele, o PT deveria ter, devido a seu próprio histórico e à memória acumulada pelas esquerdas no mundo, plena consciência do que aconteceria, o que, óbvio, coloca o partido em um lugar de autoconsciência do seu lugar nas vias institucionais e do golpe em curso (por vezes é chato assistir a um filme onde já sabemos o final).
Assim, o que deveria ficar como aprendizado para a esquerda não seria exatamente a posição de vitimização em um julgamento alheio ao processo político que ele carregava, mas “O que fazer” (sim, é uma citação a Lênin) ao ter consciência do processo político em curso. Mas, convenhamos, tanto o processo de Kafka quanto a caverna platônica não deixam de ser rememoradas constantemente, o que não deixa de ser carregar ao mesmo tempo a sensação de que já são clichês, mas que carregam uma atualidade surpreendente em relação ao que é vivido pela humanidade, ou seja, clichês que são clichês porque carregam profundos conteúdos de realidade: entre a falsa sensação de impotência e a falsa sensação de ignorância, o PT escolheu as duas, ou a cineasta assim o construiu. A representação de que o PT fora engolido pelo controle dos trâmites pelo Estado só mostra a incompetência do partido em tentar administrá-lo, não pela sua falta de perspicácia política ou jurídica, mas pela impossibilidade institucional devido à própria natureza do Estado moderno burguês.
O documentário em si tem mais impacto como documento do que como obra artística, e isso remete ao que apontamos no segundo parágrafo e que convém repetir: “sem forma revolucionária não há arte revolucionária”. O Processo é um documentário próximo à estética já desgastada do documentário tradicional, até mesmo próximo ao que se conhece por DocTv, se afastando daqueles tão somente por não ter usado a Voz Off (já tão criticada e ilegítima para estimular uma sensação de verdade) e por ter uma certa mobilidade de câmera possibilitada pela tecnologia atual.
 Assim, num fluxo de tomadas dos bastidores de Brasília, o documentário constrói uma narrativa relativamente maniqueísta[2], que é extremamente convincente e representativa da “visão petista de mundo” (as aspas são para reconhecer a limitação de uma tal determinação e também para carregar um pouco de ironia proposital), no interior da sua representação maniqueísta não há erro, ou equívoco narrativo, sua narrativa falha exatamente pelo que não faz aparecer, sejam os outros atores institucionais de extrema relevância para o contexto: os midiáticos, o judiciário, ou… a forma que aparece as organizações e protestos de esquerda, representadas de forma completamente coadjuvante, como torcedores que esperam o final de uma partida esportiva no final do campeonato. Parece que o filme esquece nessas cenas o que está em jogo realmente, não o destino de um governo, mas o destino de toda a população de um país. Tais representações apontam para duas formas ideológicas: 1) a política como uma esfera completamente autônoma da produção social em sua complexidade e; 2) a ausência de representação das organizações populares que tentaram, ainda que sem muito sucesso, organizar formas de pressão política popular em todo o Brasil no período do golpe. Ainda que a cineasta não tenha tomado essas imagens, a mídia e as organizações sociais as produziram; elas poderiam ter sido utilizadas e citadas no filme. Enfim, a opção de não mostrar a organização popular é uma opção estética que transmite uma certa noção de realidade, que, ao meu entender aponta para um afunilamento da explicação da complexidade do real em detrimento de uma visão apartada da política restrita às arenas institucionais que aparecem na grande tela e tem se mostrado como via preferencial de ação pelo PT. Mas por que o documentário seria tão representativo para nosso momento já que possui uma estética relativamente conservadora e com uma narrativa que privilegia a perspectiva institucional do PT no “processo”[3]? Ele demonstra claramente o que aconteceu no Brasil exatamente pelo que exclui de suas representações: os movimentos populares. Obviamente houve um golpe institucional no país, obviamente petistas estavam certos ao afirmarem que o que houve foi o cumprimento do rito esvaziado dos conteúdos a que esse rito deveria se subordinar. Em suma, houve uma encenação (com todas as “vênias” ao Teatro enquanto linguagem artística) de um julgamento sem a apreciação dos fatos, um julgamento “fictício” onde a farsa da neutralidade jurídica expunha toda a sua desfaçatez sem a necessidade de ocultar suas origens conservadoras, não à toa, as declarações de voto do Impeachmentcarregaram menções a Deus, aos herdeiros dos donos do Poder e a torturadores da ditadura militar. E nisso, o documentário foi preciso, e explicita ao mesmo tempo o conteúdo e formas políticas de atuação do PT e sua ineficácia frente aos “donos do poder” e à força política do capital.
Assim, num fluxo de tomadas dos bastidores de Brasília, o documentário constrói uma narrativa relativamente maniqueísta[2], que é extremamente convincente e representativa da “visão petista de mundo” (as aspas são para reconhecer a limitação de uma tal determinação e também para carregar um pouco de ironia proposital), no interior da sua representação maniqueísta não há erro, ou equívoco narrativo, sua narrativa falha exatamente pelo que não faz aparecer, sejam os outros atores institucionais de extrema relevância para o contexto: os midiáticos, o judiciário, ou… a forma que aparece as organizações e protestos de esquerda, representadas de forma completamente coadjuvante, como torcedores que esperam o final de uma partida esportiva no final do campeonato. Parece que o filme esquece nessas cenas o que está em jogo realmente, não o destino de um governo, mas o destino de toda a população de um país. Tais representações apontam para duas formas ideológicas: 1) a política como uma esfera completamente autônoma da produção social em sua complexidade e; 2) a ausência de representação das organizações populares que tentaram, ainda que sem muito sucesso, organizar formas de pressão política popular em todo o Brasil no período do golpe. Ainda que a cineasta não tenha tomado essas imagens, a mídia e as organizações sociais as produziram; elas poderiam ter sido utilizadas e citadas no filme. Enfim, a opção de não mostrar a organização popular é uma opção estética que transmite uma certa noção de realidade, que, ao meu entender aponta para um afunilamento da explicação da complexidade do real em detrimento de uma visão apartada da política restrita às arenas institucionais que aparecem na grande tela e tem se mostrado como via preferencial de ação pelo PT. Mas por que o documentário seria tão representativo para nosso momento já que possui uma estética relativamente conservadora e com uma narrativa que privilegia a perspectiva institucional do PT no “processo”[3]? Ele demonstra claramente o que aconteceu no Brasil exatamente pelo que exclui de suas representações: os movimentos populares. Obviamente houve um golpe institucional no país, obviamente petistas estavam certos ao afirmarem que o que houve foi o cumprimento do rito esvaziado dos conteúdos a que esse rito deveria se subordinar. Em suma, houve uma encenação (com todas as “vênias” ao Teatro enquanto linguagem artística) de um julgamento sem a apreciação dos fatos, um julgamento “fictício” onde a farsa da neutralidade jurídica expunha toda a sua desfaçatez sem a necessidade de ocultar suas origens conservadoras, não à toa, as declarações de voto do Impeachmentcarregaram menções a Deus, aos herdeiros dos donos do Poder e a torturadores da ditadura militar. E nisso, o documentário foi preciso, e explicita ao mesmo tempo o conteúdo e formas políticas de atuação do PT e sua ineficácia frente aos “donos do poder” e à força política do capital.
Poderíamos contrapor essa posição estética à de alguns artistas que se debruçaram sobre o debate estético-político, artistas de tempos de grande mobilização e organização política, que desenvolveram formas de representação que tentavam afetar os espectadores para que estes não se limitassem à passividade (lembrem, forma tem um certo jeitinho de conteúdo). O conservadorismo estético do documentário aqui analisado é portanto sintoma da relação que o PT teve com a população brasileira, nesse sentido, o PT não teve um apoio popular organizado, mas manteve os espectadores do espetáculo de sua desgraça e queda. Ora, Joseph K. era ignorante o suficiente para não saber quais decisões tomar, quais valores sustentar diante da adversidade. Na política, não há espaço para a ingenuidade. E sabemos depois de tantos golpes e derrotas mundo afora que não há um governo que se pretenda minimamente resistente às determinações econômicas capitalistas de origem internacional ou nacional sem largo apoio popular organizado (e tenho clareza de que o PT vinha tomando medidas extremamente impopulares, mas, ainda assim, não eram o suficiente para acalmar a burguesia em crise econômica, que queria sua cabeça).
A representação fílmica, de estética relativamente conservadora, que construiu imagens de protagonismo aos parlamentares e advogados petistas e suas ações institucionais, representa dessa forma a equivocada e também relativamente conservadora decisão do PT de afastar-se gradualmente dos movimentos sociais e a opção de confiar na segurança institucional do Estado burguês brasileiro (piada pronta, nos períodos “republicanos”, tivemos mais tempo de governos de exceção do que de governos democráticos). Ora, ironicamente, o partido que não assinou a constituição de 1988 por não conter os avanços considerados necessários à justiça social fora justamente o que acreditou no que ali estava escrito; uma fé procedimental na letra morta que sempre viveu sob a disputa da luta de classes, e que, obviamente, não seria seguida como princípio pela elite econômica brasileira e mundial.
Do ponto de vista fílmico, podemos remeter a um diálogo com dois outros documentários: A batalha do Chile, de Patrício Guzman; e A Hora Dos Fornos, de Fernando “Pino” Solanas e Octavio Gentino (por favor, assistam a esse filmes, são fantásticos e mudarão suas vidas!)[4]. Sim, eles são antigos – o que para o cinema significa dizer que são cinquentenários ou próximo a isso, ou seja, são muito recentes historicamente –, mas muito esclarecedores, deveriam ser vistos tanto pelos petistas quanto pela diretora, uns para serem influenciados no fazer político, outra para ser influenciada no fazer cinema. Carregavam em sua forma a consciência do peso de seu momento histórico. La Hora de Los Hornos, por exemplo, fora produzido clandestinamente em um momento de extrema perseguição política na Argentina, feito para ser assistido de forma “escondida e não apropriada”, em salas de exibição improvisadas pelos que se organizavam contra a ditadura e fugiam de sua violenta repressão. Após os créditos iniciais, o filme nos leva à ausência de imagem; sua banda sonora carrega uma música crescente, os tambores tocados ao mesmo tempo mostram sua vinculação estética de caráter popular e seu lado na trincheira do mundo, a banda sonora, assim, causa no espectador um estímulo de mobilização (e o filme pretende deliberadamente nos incitar à ação política). Lá pelas tantas, o filme traz a afirmação de que “todo espectador é um covarde ou um traidor” (durma com essa!). E, após uma série de imagens de luta e repressão ao redor do mundo, termina apontando para a necessidade de organização popular na luta contra as opressões do mundo.
 Ora, O Processo, o de Maria Augusta (nem o de Kafka e nem sua maravilhosa adaptação por Orson Welles), através de uma estética conservadora não encarna na sua forma o potencial de insubordinação dos espectadores, que devem se limitar a isso, espectadores em salas de cinema comuns (não precisamos nos adentrar sob a discussão das estéticas brechtianas e de Augusto Boal, os diversos manifestos do Novo Cinema Latino Americano ou os debates sobre arte de Breton e dos Surrealistas para embasar essa discussão), nem mesmo o PT tem buscado em suas práticas a organização popular, mas o voto, que não deixa de ser uma forma política de produzir espectadores passivos da produção da história. Os poucos momentos em que as manifestações populares aparecem em cena são tomados por trás da cerca que afastava o povo dos governantes e da cineasta que conforma um sujeito-da-câmera que está nos bastidores das decisões petistas: os manifestantes como “eles”, os parlamentares como “nós”. A cena em que Dilma se aproxima do povo demonstra mais uma política com elementos populistas do que populares, mais como uma vinculação afetiva ao estilo “Dilma, I Love You” do que como uma afetação politizada, olhinhos brilhando e nada de ação apaixonada e insubordinada. Há algumas cenas em que há mais câmeras da mídia do que manifestantes de apoio ao governo, e isso também é sintomático. Duas falas autocríticas (exceções em todo o filme) resumem bem esse distanciamento. Quais sejam, a de Gleisi e a de Gilberto Carvalho (reconheci as caras, mas o filme não traz essa identificação), quando se referem ao papel das movimentações de esquerda organizadas e ao equívoco petista em se afastar delas, mas que tratam das manifestações e organizações populares em terceira pessoa, não numa terceira pessoa próxima, e sim num grau de afastamento sintomático. “Eles” não são apontados como parte dos “nossos” (a fala de Gilberto Carvalho aponta uma afinidade e identidade coletiva um pouco maior que a de Gleisi), mas um “eles” completamente distante de nós, uma espécie de possíveis aliados, tal qual os possíveis aliados buscados taticamente pelo PT na direita conservadora.
Ora, O Processo, o de Maria Augusta (nem o de Kafka e nem sua maravilhosa adaptação por Orson Welles), através de uma estética conservadora não encarna na sua forma o potencial de insubordinação dos espectadores, que devem se limitar a isso, espectadores em salas de cinema comuns (não precisamos nos adentrar sob a discussão das estéticas brechtianas e de Augusto Boal, os diversos manifestos do Novo Cinema Latino Americano ou os debates sobre arte de Breton e dos Surrealistas para embasar essa discussão), nem mesmo o PT tem buscado em suas práticas a organização popular, mas o voto, que não deixa de ser uma forma política de produzir espectadores passivos da produção da história. Os poucos momentos em que as manifestações populares aparecem em cena são tomados por trás da cerca que afastava o povo dos governantes e da cineasta que conforma um sujeito-da-câmera que está nos bastidores das decisões petistas: os manifestantes como “eles”, os parlamentares como “nós”. A cena em que Dilma se aproxima do povo demonstra mais uma política com elementos populistas do que populares, mais como uma vinculação afetiva ao estilo “Dilma, I Love You” do que como uma afetação politizada, olhinhos brilhando e nada de ação apaixonada e insubordinada. Há algumas cenas em que há mais câmeras da mídia do que manifestantes de apoio ao governo, e isso também é sintomático. Duas falas autocríticas (exceções em todo o filme) resumem bem esse distanciamento. Quais sejam, a de Gleisi e a de Gilberto Carvalho (reconheci as caras, mas o filme não traz essa identificação), quando se referem ao papel das movimentações de esquerda organizadas e ao equívoco petista em se afastar delas, mas que tratam das manifestações e organizações populares em terceira pessoa, não numa terceira pessoa próxima, e sim num grau de afastamento sintomático. “Eles” não são apontados como parte dos “nossos” (a fala de Gilberto Carvalho aponta uma afinidade e identidade coletiva um pouco maior que a de Gleisi), mas um “eles” completamente distante de nós, uma espécie de possíveis aliados, tal qual os possíveis aliados buscados taticamente pelo PT na direita conservadora.
Outro elemento de alheamento causado por O Processo é a forma de exposição dos personagens, que não carregam nenhuma identificação (comentário que escutei de Ludmila – vocês não conhecem – ao sair do filme). Qual seja, os espectadores, além de passivos, não têm acesso às identidades dos personagens apresentados, uma outra forma de alienação garantida pelo filme a partir de uma decisão estética. Se quem vê tem alguma aproximação com os bastidores do evento, tem condições de acompanhá-lo em termos de identidades individuais, caso contrário, personalidades entram e saem de cena mantendo o espectador em relativa ignorância. Isso tira a história dos personagens, para além da representação fílmica, o que acaba por situar o próprio lugar do filme na história. O evento do golpe, assim, tende a parecer encerrado em si mesmo, sem comunicação com o antes, apesar de apresentar elementos de interpretação do que ocorre depois, no governo de Temer. Mas, o potencial de alcance histórico do filme acaba por se restringir através de uma opção estética limitada.
Por fim, o filme é completamente representativo das formas como se deu o golpe, e carrega em si, enquanto forma e conteúdo, o modo de fazer política do PT. Ambos, filme e partido, mantêm seus espectadores na completa passividade. Ambos representam o nosso tempo histórico, onde há um relativo recuo da esperança ativa e revolucionária e da falta de ousadia. E esse motivo compartilhado é que não nos permite considerá-los como vanguarda política ou estética na atualidade.

Notas
[1] Ver tese de Bruno Sampaio (2017): Ideologia e Absurdo na Obra de Kafka.
[2] Não se consegue, por exemplo, saber se a personagem “do mal” Janaína Paschoal é tão ridícula ou se foi ridicularizada pelo filme. Limitamo-nos a pôr uma nota de rodapé, porque não entraremos no debate sobre a representação daquela mulher no filme, em detrimento da representação dos homens, que, por mais toscos que sejam na vida concreta, não foram tão ridicularizados no filme. Porque a constituição de uma personagem feminina ridicularizada, mesmo que esteja do outro lado da trincheira, seria um artigo em separado digno de problematizações e polêmicas próprias ao debate cinematográfico através das autoras feministas.
[3] Comentário que não será desenvolvido: temos elementos para especular que houve a construção da heroína do documentário. Gleisi Hoffmann fornece indícios para considerarmos sua figura como possível candidata à presidência, caso haja eleição em 2018.
[4] Isso para não falar de Game Of Thronese House of Cards, duas produções com representações elitistas da política, mas que são ótimas fontes de conhecimento político
Fonte: http://passapalavra.info