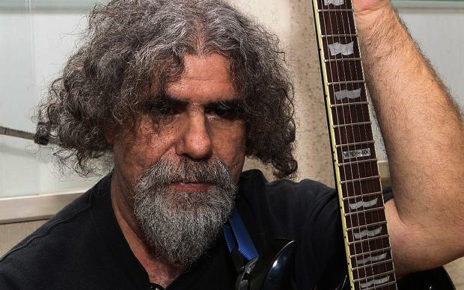O novo paradigma emergente nas ciências e na cultura deslocou, nos últimos anos, uma infinidade de pesquisas e investigações, dos quais se chega à certeza de que a ciência, os processos culturais e a subjetividade humana estão socialmente construídos, recursivamente interconectados e conformam um sistema aberto.
As novas redes de comunicações, realidade virtual, multimídia, tele-trabalho, cibernética e internet estão abrindo novamente o mundo a uma consciência sistêmica não hierarquizada, e a um estilo cognitivo dialógico.
Nos âmbitos acadêmicos, a mudança de paradigma científico pode ser resumida a dois postulados básicos: a) a tendência à ordem nos sistemas abertos; b) ontologia sistêmica; c) conhecimento tácito, intuição científica; d) princípios holográficos aplicados ao entendimento do cérebro, a memória, o universo, etc.; e d) metacomunicação e princípio de complementariedade, debilitamento dos dualismos e taxantes linhas divisórias entre filosofia, ciência e arte, sujeito e objeto, , natureza e cultura, linguagem e realidade, partes e todo. Em definitivo, um novo modelo de unidade dinâmica em todos os âmbitos: a teoria dos campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, as estruturas dissipativas de Ilya Prigogine, a psicologia humanista/potencial humano, transpessoal, Gestalt e integral (Maslow, Grof, Perls, Wilber), a ordem implicada do físico David Bohm, a teoria sintérgica de Jacobo Grinberg, a hipótese Gaia de James Lovelock, o universo de dez dimensões e as super-cordas (John Schwartz e Michel Green), o teorema de John S. Bell, os infinitos mundos múltiplos e inacessíveis de Hugh Everett e Bruce De Witt, a complexidade social em Edgar Morin, as novas psicoterapias inspiradas no xamanismo: respiração holotrópica, ritualterapia, etc. No mundo político somos surpreendidos, ainda, com a tendência para as unificações dinâmicas: a unificação europeia nos anos 90’, as tendências e os movimentos políticos para um modelo social latinoamericanista do século XXI que recupere valores e matrizes comunitaristas, identitárias, etc. (Exército Zapatista, Evo Morales) a intercomunicação direta dos povos e dos grupos sociais para além da referência a um centro de poder (movimentos populares recentes no Egito, Túnis e outros países do Oriente Médio), o declive das hierarquias dogmáticas das religiões institucionalizadas, a atenuação da repressão do instintivo e o aspecto feminino da realidade, bem como da dualidade masculino/feminino, ou vida/morte; a nova “mitologia” através do cine massivo e séries televisivas com componentes “gnósticos”, “xamânicos”, ou com referentes à comunicação entre universos e tempos paralelos (filmes ou séries como Matrix, O Código da Vinci, Avatar, A Viagem, Os Arquivos X, Lost, Fringe) e um longo et cetera.
A antropologia, geradora de muitas das pesquisas que implicaram neste paradigma emergente, não podia ficar fora, ela mesma, com as portas fechadas dentro da mesma disciplina, no caminho de orientar-se para novos rumos nos quais termine de despojar-se de seus próprios preconceitos positivistas e seus remanescentes metodológicos atados ás suas origens no século XIX. Sobretudo porque a sociedade atual, em busca de respostas , vê com renovados olhos esta ciência social em meio de uma fenomenal crise ecológica e axiológica, que fez, em pouco tempo – embora com demasiada autolimitação – começar a expandir suas ferramentas científicas (tanto humanísticas, como bioquímicas) para aproximar-se com maior profundidade eu nunca, e de um modo inédito, a práticas, técnicas, representações e sistemas simbólicos dos povos originários e das antigas civilizações, baseados em especiais estados ampliados de consciência. E isto está ocorrendo porque justamente se percebeu que o excessivo mecanismo positivista, o monismo e o determinismo, somados ao utilitarismo como valor supremo, acrescentaram uma “brecha antropológica” (como diz Edgar Morin) de um modo tão perigoso para a própria sobrevivência que já se intui que temos que voltar a pousar o olhar naquelas visões holotrópicas baseadas em experiências transpessoais, de expansão da consciência e aniquilação do ego, tão comuns e fundamentais naquelas culturas – como as indo-americanas – e quase perdidas no “mundo ocidental” ou “greco-europeu”, depois de uma série de episódios na História.
De fato, segundo a etnóloga Erika Bourguignon (citada por Kalweit): “90% de 488 sociedades – iu seja, 57% e todas as sociedades conhecidas – utilizam diversas formas de estados alternativos de consciência,institucionalizados e com influências culturais”, e de acordo com o especialista catalão Josep M. Fericgla, “o mundo visionário é usado como recurso adaptativo em 89% das sociedades humanas estudadas, ao mesmo tempo que 5% – como mínimo – da população ocidental passa boa parte de seu tempo suspensas em transes espontâneos que têm algum tipo de relação entre o sujeito e o seu entorno, ou seu passado pessoal”.
Charles Laughlin – impulsor da antropologia transpessoal e do estruturalismo biogenético – oferece sua categoria de sociedades “monofásicas’ e “polifásicas” para compreender melhor este fenômeno. Laughlin nota que vivemos, nos tempos atuais, em uma sociedade que confina de forma muito estrita a experiência e o conhecimento numa faixa muito limitada de estados de consciência. Os únicos estados de consciência que a nossa cultura admite como válidos são aqueles enquadrados na categoria da “consciência normal de vigília”: no entanto, a maior parte das sociedades do passado e as tradicionais aspiravam a uma integração de experiências derivadas de dois ou mais estados alternativos de consciência (vigília, meditação e sonho, no caso do tantrismo tibetano; ou vigília, sonho e transe de ayahuasca, na tribos da Amazônia ocidental, para citar apenas dois exemplos). Sabe-se que estas culturas conseguiam tal integração “polifásica” de informação através de controles rituais, estipulação coletiva de técnicas para atingir de forma proveitosa estes estados, e uma fina interação de símbolos condicionados a tal unificação (Laughlin, McManus e Shearer).
Quando solicitaram, em 1970, ao filósofo hindu Telliyavaram M. P. Mahadevan, que de forma breve explicasse a um grupo de estudantes norte-americanos em que se diferenciava a filosofia hindu da ocidental, expressou com naturalidade: “A diferença é que os filósofos ocidentais filosofam a partir de um único estado de consciência, o estado de vigília, enquanto os filósofos hindus fazem a partir todos os demais estados”.
Segundo a visão ontológica de nossa moderna cultura, a consciência é só uma subfunção do cérebro humano e não apenas temos receio de outros estados alternativos ou ampliados de consciência (confinados, em última instância, a raridades recreativas ou patológicas), como também receamos da subjetividade, da contemplação, das emoções e de tudo que desvie um pouco da vigília empiro-lógico-racionalista.
Com respeito à cultura polifásica das antigas civilizações e culturas tradicionais, cabe citar, além do xamanismo ameríndio, australiano, polinésio, siberiano, euro-asiático, das tribos selvagens hindus, innuit, balinês, batak, hunza e coreanas, as práticas druidas no mundo celta, os ritos funerários com emanações de cânhamo entre os misteriosos citas, os auto-sacrifícios, as posturas extáticas e os banquetes de cogumelos da nobreza sacerdotal asteca e maia pré-hispânica, as cerimônias do soma entre os ários vedantas e o haoma dos persas, o transe popular dos herboristas, camponeses e “bruxas” do paganismo medieval europeu, os mistérios de Elêusis, Delfos, Lesbos e Samotrácia, as bacantes e ménades na Grécia clássica, certas práticas contemplativas e extáticas dos iatromantes, augures e poetas pré-socráticos como Ferécides, Epimênides, Hermótimo, Abaris e quiçá filósofos do século III como Plotino, os mistérios de Inanna e Tamuz, Ísis e Osíris, Dionísio, Atis, Adônis, Mitra, Wotan, em Roma, no Mediterrâneo e no Oriente Médio. A eles haveríamos que acrescentar, provavelmente, procissões e cultos coletivos similares com plantas psicoativas em Teotihuacán, Chavín de Huántar,Tiahuanaco e o noroeste argentino, especificamente em centros hegemônicos dos senhorios da cultura Aguada; o transe de possessão dos cultos afro-caribenhos e afro-brasileiros, vodu, santeria, umbanda; o samadhi budista, o wajd oujushúa dps árabes do Magreb, o nembutsu japonês, o transe dos dervixes giratórios de Konya, na Turquia, e os dhikersufistas, a oração profunda dos místicos, ascetas e visionários cristãos (particularmente Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz), os iogues da Índia, a meditação taoista, a escola tântrica tibetana (e os adestramentos em dumo, lun-gon, tulpa e chod), os estados extáticos dos berserkers vikings, os sectários nizaris (hashashin) no mundo islâmico, os inumeráveis ritos de passagem de ameríndios e africanos, as ordalias e os sacrifícios da dança do Sol, o inip ou tenda de suor entre os nativos norte-americanos e o temazcalli no México, os rituais milenares de caminhar sobre brasas na Indonésia, no Pacífico e nas festas gregas em honra de Constantino; o sincretismo buiti do Gabão, os rituais de tambores gnawa, os cultos do peiote na América do Norte e da jurema no Brasil, os episódios de messianismo/milenarismo como o Taqui Ongoy e a Ghost Dance, que incluíram estados alterados, os rastafaris na Jamaica, et cetera.
Com respeito à própria história da cultura ocidental, os eruditos em clássicos gregos, Eric Dodds (Os gregos e o irracional, 1951) e Jean-Pierre Vernant (Mito e pensamento na Grécia antiga,1993), assinalaram esta especial transição na qual os helenos da Ilíada, guiados pelo transe (monições e musas que pareciam provir de um domínio superior e externo), e seus augures, poetas e videntes-curandeiros (iatromantes), transformaram-se nos racionalistas intelectuais da era socrática. Esta famosa passagem do mito ao logos é uma mudança substancial pela qual se despersonalizaram as forças da natureza e se tende a tirar o valor da tradição. Da forma de pensamento mítica se passa à filosofia e os “xamãs” são substituídos por filósofos, o qual se atribui ao advento da polis.